“Os filhos e filhas de Melinda Gates não têm smartphones e só usam o computador na cozinha. O seu marido Bill passa horas no seu escritório a ler livros enquanto toda a gente actualiza o website deles. A escola privada mais procurada em Silicon Valley, a Waldorf School of the Peninsula, proíbe dispositivos electrónicos aos menores de 11 anos e ensina os filhos e filhas de quem trabalha na eBay, Apple, Uber e Google a fazer karts, a tricotar e a cozinhar. Mark Zuckerberg quer que as suas filhas leiam Dr Seuss e brinquem lá fora em vez de utilizarem o Messenger Kids. Steve Jobs limitava a utilização de tecnologia pelos seus filhos em casa. É impressionante se pensarmos nisso: quanto mais dinheiro fazem na indústria tecnológica, mais parecem proteger a família dos seus efeitos.”
— Alice Thomson em “Help kids to kick social media addiction”, no The Times (traduzido do inglês)
Página não encontrada
Histórias contadas de forma humana, envolvente e irresistível, num monólogo que nos faz querer voltar ao teatro. Visto na XIX Festa do Teatro de Setúbal, em 2017.

Tradução para português do Kimchi Cuddles #724.




Na versão original o autor recomenda a leitura do booklet “Speaking for Ourselves”, da associação neozelandesa Auckland City Mission.

Porra, mais uma manifestação importante. Parece que há uma todos os fins-de-semana, e eu aqui exausto, sem forças para nada e com uma pilha de trabalho da faculdade para fazer. É a dos animais, a das mulheres, a dos estudantes do ensino superior, a dos imigrantes, a dos afrodescendentes, a dos refugiados… Infelizmente, de todas as manifestações que aconteceram em 2017, ainda só conseguir estar presente em uma: esta que aparece na fotografia, em frente à embaixada da Rússia. Mais vale um pássaro na mão…
Quando deixei de esconder a minha orientação sexual — bem, mais ou menos, porque mesmo para as pessoas assumidas com mais sorte acabam por surgir sempre algumas situações em que pensamos duas vezes antes de falar — comecei a fazer imenso activismo LGBT, e pouco depois parecia que a minha vida era só isso. Uns anos mais tarde, pensei que se calhar o meu tempo de validade como activista LGBT já estava a passar, porque as pessoas provavelmente já estariam fartas de me ver a bater na mesma tecla e já não ligavam. Entretanto entrei na Faculdade de Belas-Artes e parecia um pouco ingénuo usar uma pulseira arco-íris num sítio onde havia tanta gente queer e com expressões de género não-binárias. Ao mesmo tempo a pressão do trabalho da faculdade obrigou-me a afastar-me um pouco. A pulseira arco-íris acabou por se romper e não arranjei uma nova. Cheguei a perguntar-me como é que algumas colegas na rede ex aequo conseguiam fazer activismo na mesma causa há tantos anos…
Por mero acaso, durante esse meu afastamento consegui conhecer um pouco melhor o mundo. Quando em 2013 ou 2014 eu ouvia o Gustavo Briz — na altura presidente da rede ex aequo — dizer que precisamos de um activismo LGBT mais interseccional, que trabalhasse também com comunidades negras, ciganas ou imigrantes, a ideia não me pareceu má de todo, mas na altura eu não compreendia bem a verdadeira importância do que o Gustavo dizia. Foi nesse período de afastamento do activismo LGBT que comecei a perceber. Conheci outras causas. Contactei com o Consciência Negra, com a SOS Racismo, com quem luta para dar tecto a todas os sem-abrigo… Contactei com pessoas novas. E apercebi-me mais do que antes da quantidade brutal de privilégios que tenho, de todas as coisas básicas que estão a faltar a tanta gente. Conheci o mundo mais a sério e, como diria a Mafalda, o mundo é lindo…!, mas só quando é uma miniatura de plástico, porque o verdadeiro é uma grande merda.
Contactar com realidades diferentes aumenta imenso os nossos horizontes, e por isso hoje sei muito mais do que antes. Por exemplo, sei que aquela sensação de estar há muito tempo a bater na mesma tecla e de as pessoas estarem fartas do meu activismo significa que acabei por ficar preso numa câmara de eco, ou seja, a falar para quem já sabe e para as pessoas que em princípio vão sempre concordar com o que digo (a metáfora da câmara de eco, como imagem mental, é poderosa; fez-me repensar uma série de aspectos da minha vida).
Sei que o Facebook é a maior câmara de eco que existe, e que nas zonas mais públicas da Internet não se consegue ter discussões produtivas, portanto o activismo online é quase uma inutilidade. Há muito trabalho a fazer noturos sítios, mas não na Internet. (Já agora, para quem souber inglês, eis uma banda desenhada excelente sobre as câmaras de eco.) Sei que mais eficaz do que deixar um comentário num site de um jornal é pegar na notícia e discuti-la com a família ao jantar.
Sei que o facto de existirem pessoas com expressão de género não-binária nas Belas-Artes não significa que elas não sintam discriminação, ou que não haja pessoas com expressão de género binária a sofrer discriminação. Sei que as tais pessoas queer do paraíso das Belas-Artes se calhar não estão tão seguras quando passam daquela porta e vão para o Metro. Sei que basta descer uns passos até à Rua Victor Cordon para encontrar jovens a dizer que os gays não devem adoptar.
Sei tudo isso porque conviver com outras pessoas tornou-me mais sensível, fez-me conseguir ver para além das paredes da minha casa ou da minha escola. Contactar com outras lutas mostrou-me melhor do que nunca porque é que o activismo LGBT ainda é tão urgente.
Sei que o mais provável é este texto não chegar a ser lido por uma única pessoa homofóbica. Mas também sei que muitas dos leitores ainda não tiveram grande contacto com questões trans, por exemplo. Aprendi que há conversas que têm de ser repetidas individualmente com cada pessoa e com paciência, porque mandar alguém ir ler ou pesquisar no Google nunca vai resolver nada. Não é fraterno, e aprendi que as coisas só mudam com fraternidade.
Mas aprender isso tudo permitiu que me deparasse pela primeira vez com a ilusão das outras pessoas. Há uns meses reencontrei uma antiga colega e quando lhe contava que a rede ex aequo luta contra o bullying homofóbico ela ficou verdadeiramente surpreendida, porque pensava que isso já não existia. Na própria rede ex aequo há gente a defender que as reuniões dos nossos grupos de apoio têm de se orientar mais para o activismo e menos para a choraminguice; que o anonimato hoje em dia já não é tão necessário; que fazer reuniões sobre depressão e suicídio não passa uma imagem apetecível da associação. Não está na moda, pois não. Nos tempos de hoje sentimos a pressão de ser felizes e contentes no Instagram e ter fotos nas redes sociais com cores vibrantes a mostrar que somos super activistas e estivemos na marcha a gritar, como eu. Mas não se trata só de nós próprias, trata-se das outros também. E há pessoas que não têm ainda a liberdade para fazer isso (ir à marcha é uma necessidade e um privilégio, simultaneamente). Há pessoas que precisam de falar sobre depressão e suicídio. E há também as que estão perfeitamente bem com a sua orientação sexual mas a coisa não é assim tão simples quanto parece, porque ser LGBT implica sempre “stress de minoria” e há uma série de sequelas que ficam numa pessoa por ter estado “no armário” — a quem quiser saber mais sobre esta complexidade, aconselho este artigo excelente: The Epidemic of Gay Loneliness. Tudo isto aprendi também com pessoas da rede ex aequo, quando decidi parar de falar por um momento e experimentar ouvir os outras.
Para mim chegou a hora de sair à rua outra vez. Sabemos que em alguns países de África e do Médio Oriente a homossexualidade continua a ter pena de morte ou de prisão. Mas o mundo está todo do avesso e não conseguimos apagar os fogos todos. Precisávamos de fazer manifestações todos os dias, mas também temos os nossos estudos, famílias e empregos. Por isso é que só dá para organizar manifestações quando surge o impulso de alguma notícia mais alarmante, como a do campo de concentração para gays na Chechénia (manifestação da fotografia acima). Infelizmente essas notícias vão continuar a surgir por muitos anos.
Percebi que o activismo LGBT não foi uma fase da minha vida que pudesse arrumar numa gaveta. O caminho não acaba quando nos assumimos e já está tudo bem. Não existe um só armário e um só coming out, e há pouco tempo reparei que eu próprio ainda tenho alguns armários. Por exemplo: no sítio onde dou aulas de dança, de vez em quando penso que se calhar é melhor não mostrar tão facilmente que sou gay, porque os minhas alunos até podem aceitar muito bem, mas talvez os pais e as mães não gostem muito da ideia de ter a filho a aprender com um maricas. Mas o que é pior: perder uma aluno com pais homofóbicas ou perder a liberdade de ser eu próprio sem ter de esconder? Perder uma verdadeira oportunidade de activismo fora da câmara de eco? Agora estou a habituar-me à ideia de que se calhar terei de ser activista LGBT durante toda a vida. Arranjei uma pulseira arco-íris nova.
As pessoas insultam o que desconhecem. Desconhecem-nos a nós porque tentamos parecer discretas — especialmente os homens, que têm de ser machões — e por isso nos tornamos invisíveis. E nós tentamos parecer discretas porque as pessoas nos insultam e não gostamos muito de ser insultadas. É um ciclo vicioso. A única maneira de o quebrar é deixarmos de ser invisíveis. Esta é a importância da visibilidade, que algumas pessoas não compreendiam quando diziam que eu podia ser gay mas não precisava de andar a mostrar por aí. Enquanto nos pedem para sermos discretas, o silêncio e a violência permanecem, e a polícia captura pessoas na Rússia para as espancar por serem LGBT. É por isso que preciso de continuar a dizer “Olá, eu sou o Tomás e sou gay”, ou usar a porra do carimbo na testa quando vou na rua. Não tem absolutamente nada de ridículo — é, na verdade, uma questão de vida ou de morte. Talvez não da minha vida, mas de vida ou de morte das outros.
E a visibilidade não é apenas assumir que sou gay e não tenho problemas com isso: é também seres hetero e cis (ou seja, não-trans) e assumires publicamente que não terás problemas quando uma amigo, ou a tua mãe, ou o teu filho se assumirem como LGBT. O racismo só acaba quando também as pessoas brancas tomarem consciência e lutarem contra ele — da mesma forma a homofobia e a transfobia só acabam quando as marchas LGBT estiverem cheias de pessoas cis e hetero. Isto chama-se ser apoiante. Mais do que tolerar, é saber a importância da visibilidade e assumir publicamente e em todo o lado o teu orgulho de apoiante LGBT!
Portanto, se leste até aqui e achas que até tenho alguma razão, vem comigo à Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa, no próximo sábado, às 17h, a começar no Príncipe Real. Não te preocupes, as pessoas não vão pensar que és gay ou lésbica e atirar-se a ti na marcha, podes aparecer à vontade. E se achas que aquilo são só aberrações, experimenta aparecer numa e vais ver que é super agradável.
No Porto vai acontecer no dia 1 de Julho, e começa às 15h na Praça da República. Não consegui publicar o texto mais cedo, senão tinha-te falado também sobre a de Coimbra, no dia 17 de Maio, a de Braga, no dia 3 de Junho, ou a de Vila Real, que aconteceu este ano pela primeira vez no dia 27 de Maio! Isto ensina-nos que por mais pequena que seja a tua cidade, existem pessoas LGBT que estão dispostas a marchar contigo, e que criar marchas LGBT em novas cidades não é nenhuma loucura. Fala connosco e nós pomos-te em contacto com pessoas da tua cidade.
Outras coisas que podes fazer como apoiante:
- Usa uma pulseira arco-íris. Não significa “sou LGBT”, significa “sou contra esta estupidez de discriminação que não faz sentido nenhum, e quero que toda a gente seja livre”. 🙂
- Quando o assunto surgir numa conversa, em vez de evitar, puxa mesmo a conversa para aí, sem medo. Estás a dar visibilidade, e aproveitas para desconstruir alguns mitos.
- Associa-te a uma associação LGBT. Não te preocupes, não vais estar a “ocupar o espaço das pessoas LGBT”, ou coisa do género. Não são clubes VIP! Toda a gente é bem-vinda e não vão fazer testes à tua sexualidade!
- Se tens entre 18 e 30 anos, vai a uma formação da rede ex aequo: passas um fim-de-semana numa pousada da juventude em Portugal, não tens de pagar nada, aprendes imensas coisas, fazes amigues e depois podes ir a escolas de todo o país falar sobre temas LGBT. O transporte é pago pela associação, e não, não precisas de ser LGBT para falar sobre esses temas nas escolas. Lembra-te que há muitas pessoas LGBT que não podem dar a cara, e nós, activistas, não chegamos para todas as solicitações. Outra coisa que podes fazer é ajudar a abrir um grupo de apoio na tua cidade. Acredita, mesmo sem teres passado por esta situação o teu apoio pode ser muito importante.
- Se trabalhas numa escola: fala com a rede ex aequo e com a direcção da escola, para nós irmos lá falar para uma ou mais turmas.
Paz e amor. Nada pode refutar o amor.
“Agora, gostaria de dar apenas um exemplo de como a tecnologia cria novas concepções do que é real e, neste processo, mina concepções mais antigas. Refiro-me à prática aparentemente inócua de atribuir notas ou pontuações às respostas que os alunos dão nos exames. Este procedimento parece tão natural à maioria de nós que mal nos damos conta do seu significado. Podemos mesmo considerar que o número ou a letra seja um instrumento ou, se quisermos, uma tecnologia; e, quando usamos uma tal tecnologia para apreciar e julgar o comportamento de outrem, nem sequer consideramos que fizemos algo de peculiar. A talhe de foice, saliente-se que o primeiro exemplo da classificação de exames estudantis ocorreu na Universidade de Cambridge, em 1792, por sugestão de um tutor chamado William Farish. (…) Se podemos atribuir um número à qualidade de um pensamento, então podemos também dar um às qualidades da misericórdia, amor, ódio, beleza, criatividade, inteligência, da própria sanidade. Quando Galileu disse que a linguagem da natureza se encontra escrita matematicamente, não estava a incluir o sentimento humano, a realização pessoal ou o pensamento de cada um, mas a maioria de nós parece agora inclinada a fazer tais inclusões. Os nossos psicólogos, sociólogos e educadores consideram quase impossível levar a cabo o seu trabalho sem números. Acreditam que sem eles não podem adquirir ou expressar um conhecimento autêntico.
“Não discutirei aqui se esta é uma ideia estúpida ou perigosa, mas apenas que é peculiar. O que é ainda mais peculiar é que tantos de nós não achem a ideia peculiar. Dizer que alguém devia fazer um trabalho melhor porque tem um QI de 134 ou que se situa a 7,2 numa escala de sensibilidade, ou que o ensaio deste homem sobre o aparecimento do capitalismo é um A- e que o daquele outro é um C+ deveria ter parecido chinês a Galileu, a Shakespeare ou a Thomas Jefferson. Se a nós faz sentido, isso é porque as nossas mentes foram condicionadas pela tecnologia dos números, pelo que vemos o mundo de um modo diferente do deles. A nossa compreensão do que é real é diferente, que é outra maneira de dizer que enraizado em cada instrumento está um preconceito ideológico, uma predisposição para construir o mundo como uma coisa em vez de outra, para avaliar uma coisa sobre a outra, para ampliar o nosso senso, a nossa capacidade ou atitude de uma forma mais manifesta que outras.
“É a isso que Marshall McLuhan se referia com o seu famoso aforismo: «O meio é a mensagem.» Era isto que Marx queria dizer quando afirmou: «A tecnologia revela o modo como o homem lida com a natureza» e cria «as condições de uma relação» pela qual nos posicionamos uns aos outros. Era o que Wittgenstein tinha em mente quando, ao referir-se à nossa tecnologia mais fundamental, dizia que a linguagem não é meramente um veículo de pensamento mas também o condutor. É o que Tamuz desejou que o inventor Thoth visse. Em suma, é uma antiga e persistente peça de sabedoria, talvez mais simplesmente expressa no velho adágio de que a um homem com um martelo tudo se parece com um prego. Sem querer ser tão literal, podemos alargar o truísmo: para um homem com um lápis, tudo se parece com uma lista; para um homem com uma câmara, tudo se parece com uma imagem; para um homem com um computador, tudo se parece com dados informáticos; e para um homem com uma folha graduada, tudo se parece com um número.”
— Tecnopolia – Quando a Cultura se rende à Tecnologia, Neil Postman. 1994, Lisboa: Difusão Cultural
Para poder relacionar com o artigo anterior (O que significa "O meio é a mensagem?" (1)) proponho a seguinte dedução: aos olhos de uma jornalista de televisão, tudo será parecido com o tipo de notícias que a passam no telejornal. Isso implica que o meio televisivo está completamente desprovido de potencial disruptivo?
A expressão “O meio é a mensagem” sintetiza o pensamento teórico de Marshal McLuhan. Ao longo do tempo vou compreendendo cada vez melhor esta teoria, deparando-me com momentos ou situações práticas onde eu ou outra pessoa a aplicou. Decidi começar a registar esses exemplos aqui.
Uma das coisas que advêm de “O meio é a mensagem” é compreender que há histórias que só podem ser contadas em certos meios, e há meios que só são capazes de contar certas histórias, como nos explica Suzanne, a jornalista interpretada por Jane Fonda no filme Tout Va Bien, de Jean-Luc Godard, quando percebe que não pode contar a história de uma greve numa fábrica através da emissora onde trabalha:
“Talvez seja uma questão de estilo. […] a emissora tem o seu próprio estilo. Se ouvires as emissões, parece que tudo foi escrito pela mesma pessoa. Mas eu percebi que para dizer o que eu preciso de dizer, esse estilo não funciona. […] É como se o material, o assunto, te forçasse a pensar e a escrever de uma forma diferente…”
Disto resulta que cada meio vai dar preferência a um conjunto específico de conteúdos. Das muitas implicações e leituras possíveis da frase de McLuhan, temos aqui o aspecto da selecção. O meio influencia imensamente a selecção das mensagens que são transmitidas por ele.
Ontem a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou a redução do número de assinaturas necessárias para darem entrada na Assembleia da República as Iniciativas Legislativas de Cidadãos e as Iniciativas Populares de Referendo. Passam, respectivamente, de 25 mil para 20 mil, e de 75 mil para 60 mil assinaturas. Na próxima quarta-feira esta alteração será votada em plenário.
“Concordando com a necessidade de rever este regime de modo a torná-lo mais acessível aos cidadãos, os partidos divergiram, no entanto, e muito, na questão das assinaturas. Se à direita se argumentou com a necessidade de “não banalizar” este instrumento jurídico, com as propostas de PSD e CDS, respectivamente nas 28 mil e 25 mil assinaturas, o PS baixou a fasquia para as 20 mil, o PEV para 5500, o PCP insistiu numa proposta sua de há vários anos de 5000 e o Bloco propôs 4000. Durante a discussão de hoje, os bloquistas ainda tentaram negociar com o PS uma redução para 15 mil, que não foi aceite. “Ainda é o dobro do necessário para uma candidatura presidencial ou para registar um partido político [7500 assinaturas, em ambos os casos]”, disse Sandra Cunha (BE), mas Pedro Delgado Alves, que elaborou o texto de substituição das propostas, mostrou-se inflexível.”
— Maria Lopes, Iniciativas legislativas de cidadãos só precisarão de 20 mil assinaturas, no Público
É engraçado existirem pessoas preocupadas com a possibilidade de se banalizar os instrumentos de participação directa dos cidadãos na democracia, numa altura em que os mesmos são tão parcos e @s cidadãs e cidadãos vivem tão afastades da política. Algumas propostas, pela diferença abismal, marcam uma posição muito clara sobre a importância de resolver este problema, facilitando drasticamente o acesso. Infelizmente não foram bem sucedidas. A redução é de louvar, mas de 25 para 20 mil assinaturas a diferença é assim tão grande? Está aqui a negociar-se a válvula que separa São Bento do exterior.
“É impossível governar pessoas sem perceber as suas razões, as suas lógicas, os seus saberes. Já não estamos num mundo no qual quem manda é o mais esperto da turma e em que os que são mandados não sabem nada. Em muitos casos, os que são mandados sabem muito mais do que quem governa. É preciso um diálogo entre os dois.”
“Temos que caminhar para uma sociedade mais horizontal. Hoje ainda pensamos no poder como uma vertical, alguém que está em cima e alguém que está em baixo. E por isso a Europa é interessante. E por isso ainda explorámos pouco as formas de compliance, de aceitação e de governo que não são autoritárias. O facto de haver na Europa uma dimensão muito consensual de governo está, provavelmente, a permitir-nos explorar formas de articulação de poder que não são estritamente hierárquicas.”
— Daniel Innerarity em entrevista ao Público, no artigo “Daniel Innerarity: As pessoas que transformam as sociedades são os moderados”, de Bárbara Reis
Uma classe governante de banqueiros tem interesse em ser vista simplesmente como aqueles que sabem mais — “os tipos mais espertos na sala”1. As alternativas parlamentares a esses banqueiros são sempre ou racistas populistas, ou facções impotentes da velha esquerda, reagrupando-se constantemente e discutindo internamente.
— Can Jokes Bring Down Governments?: Memes, Design and Politics, Metahaven (tradução livre)Eu acho que a esquerda não se entende e a direita tem mais facilidade em entender-se porque a direita quer poder, e porque a direita tem as suas prioridades muito bem definidas, que não são propriamente determinadas por grandes valores. Têm a vantagem de estar a defender a ideologia dominante, que é a ideologia de mercado, portanto é mais fácil para a direita entender-se, do que para uma esquerda muito assente em valores, muito intransigente relativamente àquilo que pensa.
— Mariana Mortágua numa entrevista para o projecto Maria Capaz
- Na versão original há uma referência ao documentário “Enron: The Smartest Guys in the Room” ↩
Quem é a geração jovem de hoje? Não sabemos o que nos caracteriza, se a acção, se a inércia, não fazemos ideia do futuro que nos espera. Ansiamos a revolução, uma forma de vida drasticamente diferente, mas ao mesmo tempo habituamo-nos a esta nova forma de [não] ser. Não sabemos o que nos caracteriza ao certo, ainda cheiramos a paradoxo. Ainda estamos a tentar perceber como funciona. Ainda é tudo tão recente…!
Já nós não somos miúdos e ainda não somos exemplo. Não vivemos sem telemóvel e o que não percebemos é que não vivemos com telemóvel. As redes sociais a que estamos expostos são cor-de-rosa. Partilhamos segundos felizes para esconder vidas que passamos tristes. Todos querem rir e ninguém quer pensar. Somos a geração mais facilitada e mais preguiçosa. Estamos rotinados e acríticos. Se assim continuarmos, cessem as preocupações dos robôs que substituem os humanos e comecem as dos humanos que substituem os robôs.
— Tomaz Castelão em Permitam que me apresente
Em Novembro o Teatro do Instante trouxe-nos aO Bando uma reflexão crítica sobre temas muito actuais, através de uma hipérbole deliciosa da aceleração em que vivemos. Em “En Contra”, todos os prazos são mais curtos, e tudo o que tarda é inútil. E se os contratos de casamento durassem um ano? E se fosse preciso contrato para ter um filho? E se as ambulâncias demorassem tanto a chegar que não fossem necessárias?
“Estou — farta — de — ter — tudo!”
A pertinência desta peça na actualidade e a proximidade entre @s artistas e o público fez-me lembrar o Teatro Invisível, uma das técnicas que Augusto Boal desenvolveu no seu Teatro do Oprimido. A única e grande diferença é que o Teatro Invisível acontece na rua sem estarmos à espera. Acreditamos que a situação é “real” e por isso estamos misturadas e profundamente envolvidas com a acção — somos espectatores. O Teatro Invisível é por isso uma ferramenta poderosa que nos permite perceber quais são as reacções verdadeiras e instintivas das pessoas quando deparadas com certos conflitos ou problemas sociais.
No “En Contra” acontece precisamente o contrário. As actrizes e os actores habitam o mesmo espaço que o público, deslocam-se inclusivé pelo meio do público, mas há uma barreira invisível entre a realidade da acção e a realidade do espectador, que disfruta da peça seguro e protegido com a certeza de que não vai ter que interferir. Pelo menos até ao momento em que @s artistas decidem pôr em causa essa segurança, e se aproximam demasiado do público ou o encaram na cara, ameaçando quebrar a barreira — uma das vantagens do teatro é que podemos acabar completamente vulneráveis na mão d@s artistas.
Tal como na maior parte das criações que se vêem na quinta dO Bando, existe um equilíbrio muito bem conseguido entre (1) a redundância de que precisamos para nos identificarmos e compreendermos as situações apresentadas e (2) a entropia que vai sempre contaminando a cena através dos artifícios alternativos que um teatro corajoso tem a liberdade para experimentar. Aqui há espaço para a contracenação cruzada1 e para a construção de personagens surreais de expressões exageradas. E isso é que dá todo o interesse e toda a magia.
Este é o teatro genuíno, o teatro em que não se finge nada. Não se pretende mimetizar a realidade, não se está a falsificar uma ilusão de algo que parece verdadeiro. Aqui assume-se a diferença, assume-se a liberdade, e é isso mesmo que faz falta.
- Para tentar explicar em que consiste a técnica da contracenação cruzada, imagine-se que partimos o palco ao meio e trocamos as duas metades do palco de lugar: as duas personagens que dialogavam frente a frente estão agora de costas, a falar para as paredes. No entanto, a acção continua. É uma maneira de manipular o espaço. ↩

A morte de David Duarte fez-nos reparar na dependência que a nossa vida tem de estruturas burocráticas — a relação assustadora entre as tarefas administrativas (como a gestão de horários) e os números da negligência médica. Somos confrontadas com o carácter frágil da vida que nos desabituámos de encarar, e a dimensão da nossa interdependência. Esta não terá sido uma morte em vão se nos conseguir unir para repensarmos essas estruturas, para juntos as melhorarmos e evitar futuros desastres.
Infelizmente o debate público é outro: como é costume, atribui-se culpas com indignação, de forma imediata. Mas esta discussão tem uma particularidade incomum: em vez de se unir o povo em uníssono atribuíndo toda a culpa ao governo como é tradicional, vemos instalada uma guerra de profissões, com declarações do tipo “eu tenho piores condições de trabalho que tu, tu és um tuga privilegiado e ganancioso”. O país acorda da ilusão e apercebe-se de que a profissão de médico, uma das mais importantes e, por isso, mais protegida e privilegiada, está afinal numa situação de grande precariedade. Todo o fervor comparativo faz esquecer qualquer sentimento anterior de solidariedade…
União? Longe disso. Não somos capazes de assumir uma responsabilidade partilhada pela morte do David, tal como não somos capazes de assumir responsabilidade pela desarrumação em que deixámos o nosso país. Fazemos o nosso trabalho a despachar, sem rigor e sem vontade de fazer bem, e é exactamente esse o contributo de cada uma de nós para o grande caos, que um dia vai impedir que sejamos tratados com a celeridade necessária num episódio de urgência.
A imagem sorridente de David é agora o símbolo trágico de um país em que se deixa andar. E a culpa pela morte dele é minha, é nossa.

Dar as boas-vindas às famílias refugiadas é a coisa mais fácil. Acolhê-las já é uma tarefa de outra magnitude. É claro que este mupi pode não passar de uma manobra de publicidade para dar boa imagem à CML, e que importa aferir se e como é que as medidas de integração estão a ser implementadas. Contudo, há que reconhecer que, independentemente do que está a ser feito, esta foi uma oportunidade bem aproveitada de passar uma mensagem de inclusão e tolerância. Para além de reforçar a saudosa ideia de um Portugal hospitaleiro, esta campanha é muito especial por ser raro encontrar mensagens tão positivas e calorosas na rua. Fez-me valer o dia e pôs-me um grande sorriso de satisfação.
Na estação de Marquês de Pombal descobriram que se pode pôr publicidade nas paredes também. Estamos condenadas.

Siza Vieira conseguiu que a estação de Baixa-Chiado fosse a única do Metro de Lisboa que não tem mupis (Dizem que a intenção do arquitecto não era tanto criar um refúgio para as utilizadores do Metro, mas sim proteger e “sacralizar” a sua obra. Mas se calhar isso não importa realmente…). No entanto, nos últimos três anos assistimos a uma proliferação desenfreada de lojinhas, banquinhas, monolitos e outros suportes publicitários em Baixa-Chiado. Foi ingénuo achar que os mupis seriam a única arma contra o silêncio e a paz.
Pode parecer uma falácia de bola de neve, mas todas as evidências me levam a crer que a distopia de Wall-E (2008) já começou a instalar-se.



“Havia a ideia da recapitulação histórica de coisas importantes do século XX, que era feito de maneira muito directa, ou seja, através de uma lista de acontecimentos. Dizer uma lista é uma coisa difícil, em qualquer tipo de espectáculo, mas aqui era uma das coisas mais fascinantes. Funcionava como um foco de onde irradiava uma série de energias. As cenas não ilustravam essas referências, mas havia uma possibilidade de ligação com aquele universo. Por exemplo, as cenas de relacionamento entre os casais, de grande intensidade e violência emocional, tinham como subtexto ou hipertexto bandas-sonoras ou cenas de filmes. E cria-se todo um imaginário, tão forte que mesmo quem não tenha visto aqueles filmes tem algo a dizer sobre isso.”
— João Carneiro citado por Mónica Guerreiro em Olga Roriz (Assírio e Alvim)
Esta lista de acontecimentos é usada para fechar a peça depois de um longo crescendo em direcção ao caos da actualidade. “Propriedade Privada” é uma pergunta urgente: o que fazemos agora com este caos?
Já fui completamente militante contra o Acordo Ortográfico, tendo inclusivé iniciado um protesto através da recolha de assinaturas de estudantes menores de 18 anos, que não podem assinar a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Por vários motivos me afastei dessa luta. Acabei por me apaixonar por outras causas que precisavam mais de mim, e nas quais terei tido muito mais impacto e ajudado muito mais pessoas. Mas o principal motivo do meu afastamento foi o constatar das proporções ridículas que esta batalha ganhou. Tudo o que é extremismo tende a dar para o torto, e o que ao início era nobre, passou a desonesto.
De um lado, afirmam de forma redutora que nos querem pôr a falar brasileiro (apesar de o acordês diferir muito do português do Brasil), e muitas vezes subentende-se a ideia salazarenta de que o português europeu é o mais verdadeiro e válido. Do outro prega-se a igualdade entre países e o interculturalismo, mas em vez de se celebrar essas diferenças valiosas entre as culturas, concorda-se em tentar aplaná-las através de um tratado. É contraditório! O problema agrava-se quando esse tratado, por incompetência dos seus autores, acaba por fazer exactamente o contrário do que se propõe. É duplamente contraditório!
As estratégias de ambas as facções tornaram-se cada vez mais demagógicas, recorrendo a um simplismo boçal que só denuncia o estado grave da frustração e da loucura. O exemplo mais paradigmático das falácias dos anti-acordistas é demonizar a “nova ortografia” de palavras que, na verdade, não mudaram. Do lado dos acordistas, os “argumentos” também são feios e ofensivos. Eu não recuso o acordo por preguiça, ou por ser um “velho do restelo” que não está para mudar o que aprendeu há muitos anos, como insinuam. Acreditem que não é por preguiça: eu procedo a qualquer alteração na língua que considere bem fundamentada e pertinente.
Loucuras à parte, é preocupante ouvir com tanta frequência — especialmente de “linguistas” ou filólogos — o argumento de que se trata apenas de uma actualização ortográfica, ou seja, de uma mudança da forma e não do conteúdo da escrita, e por isso não se está a mudar significados. Essa é uma perspectiva extremamente ingénua, que passa ao lado de todos os desenvolvimentos do estruturalismo, do pós-estruturalismo e das teorias da comunicação, que ignora como forma e conteúdo se contaminam mutuamente e que, acima de tudo, mostra um desconhecimento perigoso do poder da língua na nossa percepção da realidade.
Dizer que o (des)Acordo Ortográfico é apenas uma questão menor (“eu habituei-me num instante, não sejam preguiçosos!”) é ter uma visão extremamente superficial da realidade, obliterando todo o significado político e ideológico que este tipo de decisões comportam. É ser cúmplice de um abuso de poder do estado, de uma tirania caprichosa.
Há uma grande perversão de prioridades quando temos o sistema educativo num estado lastimoso mas nos dedicamos a fazer pequenas “correcções ópticas” à língua para ficar mais bonitinha e limar umas arestas. Para mim, isso é que é a verdadeira “incapacidade de vislumbrar a floresta” e a “fixação no galho de uma árvore” (fonte). Talvez porque não há competência para limpar a floresta.
Há poucos anos ouvi alguém ligada à educação dizer que os professores deviam fazer o exercício de corrigir com as crianças os livros com a ortografia antiga, como exercício de adaptação à ortografia do (des)acordo ortográfico. Podia pegar nesta ponta do novelo e começar a desenrolar todas as ideias ridículas, obsoletas ou ilógicas que as ministras e os ministros da educação tiveram durante o período em que frequentei o ensino básico e secundário. Perturba-me seriamente pensar que esses doze anos foram degradados por anda e desanda, crescente burocracia e pela (legítima) indignação da comunidade escolar. Quando António Costa, em discurso público, disse que a escola pública precisa de paz, isso fez-me todo o sentido. De facto, na última década a escola pareceu mais um campo de batalha. “Paz” foi uma palavra que assentou mesmo bem. Tocou mesmo na ferida.
- Um ministério da educação que, como resposta aos fracos resultados nacionais a Português e Matemática, decide simplesmente reforçar a carga horária dessas disciplinas. Ou seja, duas peças no puzzle não encaixam, mas em vez de rodarmos a peça e tentarmos perceber como é que ela pode encaixar… batemos com mais força!
- Um ministério que não respeitou os professores e se preocupou mais em avaliá-los do que em ouvi-los e formá-los.
- Um ministério da educação que investiu mais em coagir @s alun@s a estar dentro das salas de aula nos “feriados” do que em melhorar a forma como o ensino se processa dentro e fora das próprias aulas.
O que realmente importa…?
Em resumo, um ministério tirano e incapaz que não actua pela inteligência e boa gestão, mas sempre com base na coacção. De certeza que esta não é gente com tacto para falar sobre cultura!
Na língua portuguesa existe a palavra saudade. Isso permite-nos lidar com o sentimento de saudade de uma forma mais próxima: sabemos que ele existe, faz parte do nosso quotidiano, está completamente assumido. Numa língua em que não exista a palavra saudade, o sentimento pode existir ainda assim nas pessoas, mas não tendo nome é muito mais díficil relacionarmo-nos com ele. Todas nós já experienciámos momentos em que sentíamos algo que não tinha uma palavra exacta para o descrever, e sabemos que isso por vezes nos deixa desconfortáveis, porque queremos exprimir o que sentimos e, em vez de dizer apenas o nome desse sentimento, somos obrigados a tentar descrever algo completamente abstracto, e precisamos de muitas palavras para o fazer. Para uma pessoa que não tenha muita facilidade em exprimir-se verbalmente (porque há vários tipos de inteligência), isso é extremamente difícil, e essa pessoa pode acabar com certos sentimentos reprimidos, muitas vezes não tem a oportunidade de os partilhar. Os sentimentos que não têm nome, é como se não existissem.
Só o que existe na língua existe na realidade
Alguns exemplos:
- Numa língua em que exista uma palavra para a tua profissão, estás mais protegida, porque é mais provável a sociedade saber o que fazes e reconhecê-lo (e não tens que o explicar cada vez que te perguntam). Existindo essa palavra, é possível conheceres outras pessoas com a mesma profissão, e é possível existir uma associação de profissionais que lute pelos vossos direitos.
- Muitas pessoas transexuais, especialmente as que não tiveram Internet na sua juventude, contam que se sentiam muito sozinhas e num mundo desconhecido até descobrirem a palavra *transexualidade*. Essa palavra foi a chave para descobrir outras pessoas transexuais, para a partilha de histórias pessoais e para o apoio mútuo.
- Se uma doença rara tiver um nome — por mais esquisito e impronunciável que seja —, é provável que o seu portador possa contactar com outras pessoas do país que têm a mesma doença.
- Numa língua em que existe a palavra “xenofobia” é mais fácil condenar atitudes discriminatórias e ter consciência de que são erradas.
Estes são apenas os exemplos tangíveis de que me consegui lembrar. São incontáveis as maneiras de a língua moldar a nossa forma de pensar e de agir. Aquilo que é padrão (“por defeito”) na língua, também é padrão na realidade. Gostaria ainda de exemplificar essa última relação, mas fica para outra ocasião.
A importância de um género gramatical neutro
A partir dos exemplos anteriores, permitam-me defender a urgência de se criar um género neutro (nem ele nem *ela) na língua portuguesa.
A língua sueca tem um género gramatical neutro que está em constante popularização (com o pronome hen), a caminho de se tornar o género por defeito usado quotidianamente por todas as pessoas (ao contrário do zie inglês — um intermédio entre he e she — que, tal como todos os outros pronomes neutros inventados, tem uma utilização residual).
Num país como a Suécia, posso conversar horas a fio com uma pessoa sem perceber se é um homem ou uma mulher (porque ninguém precisa de ser homem ou mulher para ser legítimo!), utilizando pronomes neutros. Podemos até ficar amigues por muitos anos sem eu ter necessidade de atribuir-lhe um género feminino ou masculino nem de formular uma ideia sobre o que essa pessoa tem entre as pernas. Essa é uma característica que devia pertencer à privacidade de cada um, mas em vez disso é perversamente considerada indispensável para as nossas interacções sociais. Idealmente, o único momento em que teríamos que conhecer esse pormenor seria na eventualidade de querermos ter filhos com essa pessoa.
Agora passemos para Portugal. Quando conheço uma pessoa que não me parece nem homem nem mulher, surgem dois problemas que não acontecem na Suécia: (1) primeiro vou ter que lhe perguntar qual é o pronome que prefere, o que pode ser constrangedor para ambas as partes; (2) essa pessoa vai ter necessariamente que se rotular, optando por “ele” ou “ela”, porque não existe um equivalente em português para o zie.
Assim se demonstra a influência brutal que a língua tem na forma como percepcionamos a realidade. Numa língua em que não existe um género neutro, é impossível as pessoas terem um género completamente neutro, e é muito mais difícil para a população em geral aceitar géneros não binários. A língua é capaz de invisibilizar pessoas e identidades.
A purple circle is a symbol for gender neutrality, derived from the two gender symbols’ colours mixed together, and without the distinguishing cross or arrow used in the gender symbols (♂ and ♀) (fonte)


Fotografia de Josef Koudelka.
A população de Praga, surpreendida e assustada pela violência das invasões dos tanques do Pacto de Varsóvia em Agosto de 1968, canta o hino nacional como forma de protesto.
O que há mais poderoso e não-violento do que cantar? Cantar é das formas de protesto mais inteligentes.
Nos ataques terroristas recentes em Paris, “La Marseillaise” também foi uma arma, tendo sido cantado no Stade de France, bem como tocado pela Orquestra Metropolitana de Nova Iorque no domingo seguinte como homenagem.
Portugal tem dois hinos
No primeiro, o espaço auditivo é completamente preenchido pelo decoro barroco de uma orquestra completa, com os seus contrastes melódicos e de intensidade eruditos e toda a perícia técnica que isso exige. O segundo serve-se apenas de vozes do povo e do som de um marchar repetitivo para passar a sua mensagem poderosa com uma simplicidade tão humilde como sábia.
Um foi feito por encomenda, num período histórico que já não faz parte do ideário das portuguesas1; é vazio por ser composto de ultra-clichés, e a sua letra é de carácter bélico Este é reconhecido oficialmente como símbolo nacional. O outro dispensa o reconhecimento estatal para o ser: eleito espontaneamente pelo povo, foi fundador da liberdade que está na base das nossas vidas e que as pessoas valorizam, e por isso está carregado de poder simbólico. O que realmente importa…?

O fotojornalista Enric Vives-Rubio gravou este momento em áudio. No mesmo dia, a Grândola foi cantada em várias cidades do país.
O hino também já foi usado para interromper Pedro Passos Coelho, Miguel Relvas, Alberto João Jardim, Paulo Macedo e Marco António Costa.
- [ver acordo queerográfico] ↩
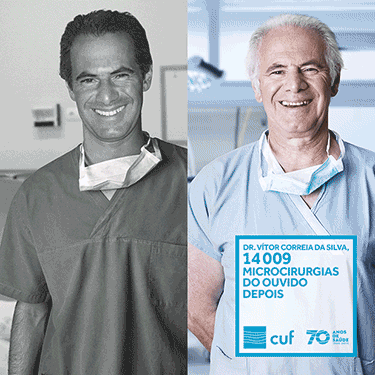
Num meio em que se exalta apenas a juventude, em que o novo é venerado e o velho escondido, é bom ver uma campanha que se destaca por uma perspectiva positiva (e realista!) da idade.
“Yes, books are dangerous. They should be dangerous—they contain ideas.” — Pete Hautman

(A citação e a pintura foram unidas pela berlin-artparasites num post no Facebook.)